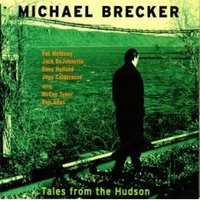Neste início de ano, tentei ler O outono do patriarca, de Gabriel Garcia Marquez. E, ainda por cima, em espanhol. O livro é denso demais. Não tem um enredo específico, e com um complicador a mais: os parágrafos são intermináveis. Desisti no segundo capítulo. Não preciso mais ler este livro, pois sei de sua importância histórica, do seu significado de resistência contra o autoritarismo, e de experiência estilística em busca de um interminável xingamento a todo aquele que pensar em tiranizar um país. O outono do patriarca é um livro marcante — jamais me esquecerei desta verdade insofismável —, de domínio narrativo entre poucos. Mas vai ficar ali por enquanto, aguardando a minha leitura, que poderá não acontecer nunca. Como diz um dos mandamentos de Perac — o leitor tem o direito de não ler.
Para compreender o fenômeno de vendas, que é O caçador de pipas, do afegão Khaled Hosseini, enfiei-me na leitura deste livro. Preferia que esta nota fosse escrita pela Lídia ou pela Luana, ou qualquer outro jovem que já o tenha lido, como também a Aline. Todas estas garotas foram unânimes em me dizer que o livro é ótimo. Mas elas poderiam interpretar a visão delas para mim, dizer-me em que o romance nos cativa (ou nos humilha?).
É um livro quase jornalístico. Talvez até autobiográfico (não me preocupei em pesquisar esta questão). Inclusive com muitos defeitos de narração e de lacunas frágeis (basta ver as descrições chatas nos momentos em que os personagens perambulam por consultórios médicos, onde as descrições são óbvias). Prova de que o narrador sempre debilita a própria escritura quando passa a abordar outra cultura.
Mas há momentos de terna poesia e humanismo: “Sonho que o meu filho cresce e se torna uma pessoa de bem, uma pessoa livre e importante. Sonho que flores de lawla florescem novamente pelas ruas de Cabul, que a música de rubad volta a tocar nas casas de chá e as pipas voam outra vez pelo céu.” Poder-se-ia dizer que é piegas, mas não há como deixar de reconhecer que é um chamado para a reconstrução de um país, para a reconstrução das cidades e das famílias. O que poderíamos sonhar no Brasil? É para isso que serve a poesia — levar as pessoas a sonharem. A poesia não manda ninguém pegar em armas, a incendiar índios e a andar estupidamente bêbado ao volante e a se matar espatifado numa árvore, num gradil, num acidente estúpido!!! A poesia leva o jovem a sonhar com a beleza dentro do seu país, dentro da cidade, dentro de si mesmo. E a melhor beleza é o próprio humanismo.
Temos de admitir: o leitor se cansou do excesso de construção romanesca. Está atrás de um diferencial — a realidade. E aí esta o atrativo dos filmes e dos romances árabes. Habituamo-nos tanto com as nossas próprias desumanidades ocidentais, que achamos que só nos países árabes (quando a cultura deles começou a se espalhar por aqui) impera a miséria, a guerra, o desconforto social. E nem estamos preparados para a compreensão daquela cultura: de repente a violência não seja tão diferente daquela (ou desta) que nos ronda.
A narrativa de O caçador de pipas é de um road movie (não tanto na primeira parte, quando os personagens ainda estão na infância — e aí o romanesco flui de forma mais convincente). Quando o personagem está no EUA, a urdidura da escrita perde muito, tanto em poeticidade quanto em construção da narrativa. Estou lendo a parte em que Amir (creio que um personagem quase autobiográfico) retorna ao Afeganistão para reencontrar o seu passado. E não vai encontrar só um país demolido, mas um passado destruído. Vamos ver até onde ele consegue o reencontro e a reconstrução.
Portanto, não é um romance só sobre a demolição familiar. Mas da busca de identidade, da busca de um Afeganistão arrasado pelas diferenças étnicas, pela invasão russa, e pelo Talibã. E, acredito, é essa realidade dura que tem cativado milhões de leitores pelo mundo afora.
Eu, pelo menos, tendo sentido as tripas se revolverem.
E talvez, após a leitura do livro, voltaremos para nosso ócio idiota, sem nenhuma guerra particular, para nosso egocentrismo, e vamos achar que só lá fora impera o indivíduo desumano para com seu semelhante. Um livro só terá validade se servir para nos lembrar que temos de tirar o pé de dentro de nós mesmos, e colocá-lo na compreensão dos caminhos desumanos de nosso próprio país, de nossa própria cidade, de nossa própria rua, de nossa própria família. Ou para compreensão e revitalização de nossa linguagem, para interpretação do homem de um determinado tempo histórico. Já que queremos uma literatura realista, ela tem de, pelo menos, servir para isto — inserir-nos na nossa realidade.
O tema dO caçador de pipas, para mim, é a covardia. Não assumimos o nosso lado humano. E quando formos nos redimir, alguma coisa terá ficado perdida. Quando não nos movemos para impedir alguma desumanidade, sujamos eternamente nossa mão de sangue (ou de merda). Só você lendo o livro pra compreender.
Você concorda? Ou a literatura é uma baba de quiabo, que não precisa estar aí?